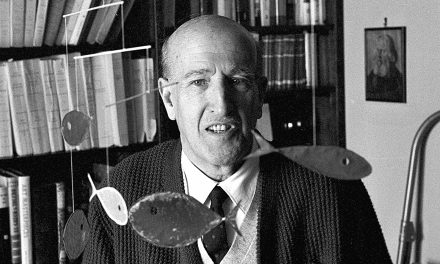João Rui de Sousa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 12 de outubro de 1928. Poeta, tradutor e ensaísta, ao lado de nomes como António Ramos Rosa, António Carlos (Leal da Silva), José Bento e José Terra, fundou a revista Cassiopeia, que dirigiu em 1955 e onde estreou literariamente com dois poemas e o ensaio “A Angústia e o Nosso Tempo”. Colaborou em diversos jornais e revistas, dentro e fora do país, e trabalhou como investigador na área de espólios literários da Biblioteca Nacional de Lisboa.
Em relação à sua obra poética, ela só foi ganhar notoriedade no início da década de 60, com a publicação de seu primeiro livro de poemas, “A hipérbole na cidade”. Entre as principais características, o poeta apresenta uma distensão da linguagem, com experimentações elípticas (de omissão de palavra) em que assume preocupações sociais, com a ambiguidade de uma linguagem que acaba por encontrar o espaço próprio das suas imagens e metáforas, numa dispersão surrealista.
João Rui de Sousa faleceu a 17 de junho de 2022, em Lisboa, Portugal.
SOMOS (OU SEREMOS?)
Somos o que fomos noutras eras
e o que seremos longe no futuro
– Música do tempo, música das horas,
relógio incerto, intencional, impuro.
Somos (ou seremos?) o que em nós
acorda a vida, os sonhos, outros sonhos
e a última canção – a alegria – que vai
e volta, indecisa, no limiar da esperança.
Por quem nos tomamos, nós, que não sabemos?
Quem nos dói por dentro em súbita alegria?
A espera e os olhos é tudo o que sentimos
desta viagem distante, deste dia.
SOBREVIVÊNCIA
Que ainda o é quando a esperança fica acesa
por incêndios pilares de amor de amar-te
quando há raízes fortes que rebentam
a dura crosta em riste deste asfalto
Que ainda o é o mesmo não tranquila
no coração real que habita o tédio
na maior decepção na dor vivida
na escuridão dos frios já sem remédio
Que ainda o é na pedra na falta de coragem
no trabalho excessivo no dia tão mal gasto
Que ainda o é para além do que nos falta
por noites de cimento coroadas
Que ainda o é – sempre sempre – redentora estrela
mesmo à beira do fim no desalento
de quem febril respira a morte ao lado
AS FORMAS ONDULANTES
Sobre a secura branca do papel
sinal de fogo lambe e é vertigem
cão de veludo cor beber o mel
um quase abraço ou lâmpada exaltante
Sobre a secura a pele colada e cheia
é como o sol tangente à nossa vida:
em nós renova tudo em nós reclama
casa redonda lábios flor florida
Na vibração dos ombros e raízes
dia de chuva amena mãe dormia
Erguem-se o lume e mãos – terra ondulante
é grande encantamento é forma viva
É paz é ar é nada – é estar ausente
E terra é mundo é cheiro – macios cabelos
Sinal de tudo – amiga cor dos seios
ou rosa incandescente ou puro
esquecimento
ABUTRES
Ao cheiro de abutres que povoam
nossa roupa do mundo e dor mais alta
– e nos deslizam moscas como patas
que sujam de excremento a nossa mágoa –
resistiremos sempre e não esperamos
escondidos no ventre das palavras.
METAMORFOSES
Neste tempo de armas aperradas
neste tempo de laços e espiões
neste tempo de sangue e de fantasmas
nesta noite de ódios e alçapões
passam por nós as asas facetadas
de vultos fraternais e as visões
de coloridos rostos e das margens
que nos decidem hoje para depois
como silêncios d’água, como praias
e pulsos de crianças e balões,
flores de beijos ternos e telhados
da amizade franca e dos bois
que o verde bebem, sonham, inefáveis,
calor de rosas bravas e canções
no tórax, nas faces e nas lágrimas
onde pedaços de lume geram sóis.
*Poemas do livro “o fogo repartido”, editora Litexa-Portugal, 1980.